Os enquadramentose narrativas estão em toda parte: nas notícias que assistimos, nas redes sociais que navegamos, nas imagens que vemos, no conhecimento que consumimos e na arte com que nos envolvemos. Por serem tão difundidos, nos acostumamos com eles e deixamos de perceber o quanto moldam nosso pensamento. Na realidade, eles são moldados por estruturas de poder cultural e político mais amplas, exercendo influência significativa sobre a opinião pública, os comportamentos sociais e as decisões políticas diretas.
O sionismo, Israel e seus facilitadores perpetuam narrativas falsas, prejudiciais e desumanizantes na mídia, na política, no desenvolvimento e assistência, nas artes e na cultura, o que influencia negativamente a opinião pública e o envolvimento internacional, além de impactar diretamente a vida e o futuro dos palestinos. Reconhecer, questionar e desconstruir essas narrativas é fundamental para transformar as dinâmicas de poder e ampliar a realidade e a autonomia palestinas.
Reconhecemos que essas narrativas não são isoladas. Eles estão interligados, muitas vezes reforçando-se ou sobrepondo-se uns aos outros. Ao mesmo tempo, reconhecer suas diferenças sutis nos permite abordá-las de forma mais estratégica. Existem muitas outras variações, mas elas não estão especificamente incluídas neste guia
“Toda história tem dois lados”, ou pelo menos é o que nos dizem. O “Dois ladismos” refere-se a um comunicador que faz uma equivalência moral ou atribui responsabilidade igual entre duas partes, numa tentativa de obter objetividade.
Essa abordagem aparece em lutas globais, mas ignora deliberadamente — em vez de questionar — o desequilíbrio histórico e estrutural de poder enfrentado pelos povos oprimidos.
No caso da Palestina, uma das narrativas mais prevalentes — reproduzida na mídia internacional, na política, nas artes e na cultura, nas organizações humanitárias e internacionais e até mesmo em espaços de solidariedade — é que os palestinos estão em um “conflito” milenar com os israelenses, em que “ambos os lados” têm direitos iguais sobre a mesma terra e compartilham a responsabilidade e a culpa pela ausência de liberdade, paz e justiça. Essa abordagem tendenciosa é um conceito colonialista que antecede 1948, criado para justificar a colonização sionista da Palestina. Dentro dessa lógica, mantém-se um compromisso falho com o “equilíbrio” e a “neutralidade”.
As manifestações dos “Dois ladismos” incluem basear histórias e pensamentos no “conflito Israel-Palestina”, no “conflito árabe-israelense” e na “guerra entre Israel e o Hamas” — todos amplamente aceitos internacionalmente. Isso cria uma compreensão errada das políticas israelenses e das ações palestinas. Por exemplo, dentro da narrativa de “dois lados”, qualquer resistência palestina é enquadrada como “terrorismo”, enquanto a agressão israelense é retratada como “autodefesa”. Os protestos palestinos são descritos como “confrontos”, enquanto a repressão israelense é descrita como “dispersão de manifestantes”.
Enquadrar a realidade como um “conflito de dois lados” ignora as causas profundas da opressão contra o povo palestino, varrendo para debaixo do tapete a história do colonialismo britânico e a manifestação de Israel através do colonialismo de povoamento e do apartheid. Isso prejudica a experiência palestina sob a Nakba contínua, caracterizada por limpeza étnica, genocídio, perseguição e opressão sistêmica.
Ao omitir essas causas fundamentais, a situação é retratada — na melhor das hipóteses — como uma “disputa” que começou com a ocupação militar da Cisjordânia e da Faixa de Gaza em 1967. Este quadro é frequentemente analisado através do direito internacional como um conflito armado entre duas partes, dentro do paradigma do direito internacional humanitário — um sistema jurídico desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial para regulamentar os conflitos armados e reduzir o sofrimento humano, não para pôr fim às ocupações ou desmantelar os sistemas coloniais.
No contexto palestino, quando considerado isoladamente, esse quadro esconde as estruturas mais amplas, históricas e contínuas de Israel que sustentam o domínio colonial. Isso fragmenta os palestinos, concentrando-se apenas naqueles que vivem na Cisjordânia e Gaza, ignorando que o projeto colonial afeta todos os 15 milhões de palestinos, incluindo os dois milhões com cidadania israelense que vivem como cidadãos de segunda classe e milhões de refugiados e deportados a quem foi negado o direito de retornar à sua terra natal.
Essa formulação normaliza a divisão territorial, consolida a fragmentação e prejudica os direitos coletivos dos palestinos, incluindo os direitos à autodeterminação e ao retorno.
O “Dois-ladismos” obscurece a dinâmica de poder assimétrica entre uma potência colonial e o povo colonizado — um dos quais é uma potência nuclear que exerce controle militar sobre o outro.
Implicar simetria de poder significa minar os direitos das pessoas e os princípios universais, que são o único caminho para a dignidade e a justiça, inclusive na comunicação e na percepção.
O “Dois-ladismos” sobrepõe os “direitos palestinos” com as “preocupações de segurança israelenses”, tornando os direitos dos palestinos à liberdade, justiça, retorno e autodeterminação condicionais, em vez de inerentes e inalienáveis. A resistência palestina à opressão, neste contexto, é deslegitimada e criminalizada, apresentada como “indisposto para a paz” ou “extremista”.
Desde outubro de 2023, as discussões em torno da “violência” têm enquadrado a resistência dos oprimidos como motivada pela hostilidade, enquanto a violência israelense é enquadrada como “defensiva”, legítima e discutível. O ataque das Brigadas de Qassam em 7 de outubro de 2023 é descontextualizado, e o genocídio e a limpeza étnica contínuos do povo palestino são apresentados como uma resposta “olho por olho”, criando assim um consentimento para o genocídio e a opressão contínua.
As ramificações prejudiciais dessa narrativa incluem a manutenção do compromisso moral falho com o “equilíbrio” e a “neutralidade”, com base na premissa equivocada de que “há dois lados em toda história” ou que “ambos os lados cometeram crimes”. Dentro dessa lógica, as políticas e ações nos setores político, acadêmico, cultural, midiático e da sociedade civil ficam restritas a estruturas de resolução de conflitos, “construção da paz” e falsa paridade. Essas abordagens mantêm a premissa de que, se israelenses e palestinos se envolvessem — seja por meio de negociações formais, projetos conjuntos ou interações individuais —, haveria um fim para o que é percebido como uma “disputa” e as chamadas “divisões” seriam superadas.
*Saiba mais sobre “falsa paridade” nessa seção
Salem Barahmeh desconstrói a narrativa do “Dois-ladismos”
Fonte: Uncivilized Media
A narrativa de “Dois-ladismos” é frequentemente sobreposta por uma dimensão religiosa ou cultural que distorce a realidade do colonialismo sionista. Ela aApresenta a situação como uma antiga “disputa” entre árabes — normalmente reduzidos a “muçulmanos” — e judeus, alegando um ódio intrínseco enraizado na religião, cultura, etnia ou fundamentos civilizacionais.
Essa formulação sugere falsamente que todos os palestinos e árabes são muçulmanos e que todos os judeus são sionistas. Reduz uma realidade política e colonial lista a um suposto “conflito” religioso.
A cobertura da mídia enquadra os protestos de 2021 na Palestina como “confrontos” entre judeus e árabes.
Fonte: Voice of America
Essa narrativa promove a ideia de que se trata de uma questão secular e intratável—algo que é muito complexo para ser resolvido—com base em identidades culturais ou religiosas opostas; em vez de uma realidade colonial moldada pelo apoio ocidental ao movimento sionista e à colonização judaica da Palestina no final do século XIX.
Essa formulação valida teorias neoconservadoras prejudiciais, como o “choque de civilizações” de Huntington. Isso perpetua o status quo, promovendo uma visão prejudicial das relações internacionais mundiais e da luta dos povos. Isso desestimula a mobilização urgente para mudar a situação, já que muitos consideram que ela é muito complexa ou delicada para ser abordada. Essa mentalidade permite a complacência e a inação em relação à expansão colonial israelense.
A narrativa retrata de forma imprecisa os palestinos como um grupo muçulmano homogêneo, ignorando séculos de pluralidade religiosa dentro da sociedade palestina. Isso carrega conotações racistas e orientalistas, muitas vezes se sobrepondo à narrativa de “terrorista”. Os palestinos, engolidos pela categoria geral de “árabes” ou “muçulmanos”, são retratados como “atrasados, violentos, terroristas”, posicionados em oposição aos judeus israelenses, que são apresentados como a personificação da modernidade europeia e da “civilização” avançada. Por sua vez, isso alimenta a islamofobia, o racismo anti-árabe e o racismo anti-palestino prevalentes no Ocidente.
Associar o judaísmo ou a comunidade judaica global a uma ideologia colonialista ignora o fato de que muitos indivíduos e grupos judaicos em todo o mundo rejeitam o sionismo e se recusam a permitir que a opressão seja praticada em seu nome. Eles enfatizam a necessidade de distinguir entre antissionismo e antissemitismo, afirmando que o judaísmo é fundamentalmente incompatível com o colonialismo, o apartheid e o genocídio.
Finalmente, retratar a situação como “conflito religioso” permite que Israel, sionistas e apoiadores difamem e criminalizem qualquer pessoa que se oponha a Israel e ao sionismo, rotulando-a de antissemita. Esse armamento não sugere que a falsa narrativa de um “conflito” entre muçulmanos/árabes e judeus seja a causa de acusações persistentes de antissemitismo, mas reforçar essa narrativa torna essas acusações arbitrárias e sistêmicas mais fáceis de implantar.
*Saiba mais sobre a difamação da incidência (advocacy) palestina nessa seção
A narrativa da “crise humanitária” é uma abordagem ocidental que esconde as causas coloniais, capitalistas e estruturais por trás das dificuldades políticas e socioeconômicas enfrentadas pela maioria da população mundial.
No caso da Palestina, essa narrativa — amplamente promovida por organizações internacionais de desenvolvimento e ajuda humanitária, pela mídia, pelo discurso político e por instituições acadêmicas — reduz a luta palestina a questões de pobreza, subdesenvolvimento e fome, apagando a realidade colonial por trás dela.
Por exemplo, a Estratégia de Assistência do Banco Mundial para a Cisjordânia e Gaza 2022-25, atribui a escassez de água ao clima da região, à exploração excessiva e às instalações precárias; em vez da colonização israelense em curso, do bloqueio, da apropriação de terras, da subjugação econômica e da exploração deliberada e poluição dos recursos naturais palestinos. Da mesma forma, durante o genocídio em curso em Gaza, as organizações internacionais têm persistido em enquadrar a situação como uma mera catástrofe humanitária, apesar da documentação esmagadora da destruição sistemática por parte de Israel, da obstrução da ajuda humanitária, do uso deliberado de alimentos como arma de guerra e até mesmo de ataques diretos a organizações e trabalhadores humanitários.
Nessa narrativa, os palestinos são frequentemente retratados como “beneficiários” passivos da ajuda, descritos como subdesenvolvidos, sem instrução, pobres e necessitados de salvação ou intervenção externa. Essa abordagem destaca de forma desproporcional mulheres, crianças e grupos considerados marginalizados, como beduínos e refugiados.
A maioria dos participantes da nossa pesquisa online (64%) está insatisfeita/muito insatisfeita com a forma como os palestinos são retratados pelas agências de ajuda internacional e ONGs.
Tanto nos grupos focais quanto na pesquisa online, os participantes destacaram os danos causados pelas narrativas que retratam os palestinos como pobres, sujos e indefesos, especialmente quando se trata de crianças, bem como pelas narrativas que apresentam as organizações de desenvolvimento e seus funcionários internacionais como “salvadores brancos”.
Os participantes palestinos classificaram as três imagens a seguir como as imagens mais prejudiciais comumente divulgadas por aqueles que trabalham no setor de desenvolvimento:



Da esquerda para a direita: APA/Extraído de Al-Shabaka Extraído de uma brochura da organização alemã de “construção da paz” Extraído de uma página antiga de GoPalestine
*Leia mais sobre nossa metodologia de pesquisa aqui
Reduzir a luta palestina a uma mera crise humanitária retira-lhe suas causas políticas fundamentais e transforma uma luta de libertação e uma busca por dignidade em uma questão de caridade.
A questão não é afirmar que existe uma crise humanitária e que os palestinos dependem de ajuda — esses são fatos —, mas sim a incapacidade de reconhecer e abordar as causas profundas. A pobreza, o subdesenvolvimento e a fome são causados pelo homem; e o colonialismo israelense, a ocupação militar, o apartheid e o bloqueio devem ser responsabilizados por produzir e perpetuar essa realidade.
Essa abordagem tem implicações significativas para as decisões políticas e de financiamento, pois canaliza recursos para soluções temporárias e paliativas, em vez de mudanças estruturais. Isso mantém um ciclo interminável de demolição e reconstrução, em que escolas, hospitais e regiões inteiras destruídas são repetidamente reconstruídas com ajuda internacional, apenas para serem destruídas novamente na próxima rodada de ataques israelenses, porque as causas fundamentais continuam sendo ignoradas. Paradoxalmente, muitos dos mesmos governos e instituições que financiam a reconstrução e a ajuda humanitária prestam simultaneamente apoio militar, econômico e diplomático a Israel, facilitando a destruição que afirmam combater.
O setor de ajuda e desenvolvimento frequentemente segue narrativas ocidentais e neocoloniais de “resiliência” como tema central. Isso defende o enfrentamento individual, a sobrevivência e a autossuficiência como características desejáveis, ignorando os sistemas mais amplos de opressão que criam e sustentam a vulnerabilidade coletiva. Fundamentalmente, a narrativa da resiliência ignora o sumoud, um conceito palestino fundamental de firmeza coletiva enraizado na conexão com a terra, na recusa em partir, na coesão comunitária e na resistência ativa contra a dominação colonialista.
*Saiba mais sobre o perigo de fetichizar a sumoud palestina nessa seção

A narrativa humanitária também perpetua estereótipos racistas e desumanizantes. Ao retratar os palestinos como perpetuamente necessitados de ajuda, sem abordar as causas fundamentais, a narrativa sugere que os palestinos são “atrasados”, incapazes de se sustentar e incapazes de se desenvolver, o que mantém o complexo do salvador branco. Representações visuais que enfatizam a sujeira, o desespero e a pobreza reforçam essas narrativas prejudiciais, enquanto a expectativa de que os “beneficiários” expressem gratidão em materiais promocionais ecoa a dinâmica colonialista.
Essa abordagem muitas vezes simboliza de forma desproporcional as mulheres e as crianças como vítimas passivas, privando-as de sua autonomia política e de seus papéis ativos na luta pela liberdade, ao mesmo tempo em que desumaniza os homens palestinos. Muitas dessas representações têm como objetivo promover o trabalho das organizações e garantir financiamento. Em nossa pesquisa, os participantes do grupo focal de Khan Al-Ahmar expressaram frustração com as comunicações do setor de desenvolvimento que priorizam os relatórios dos doadores e a arrecadação de fundos em detrimento do impacto genuíno.
Em última análise, essas narrativas não apenas minam a dignidade e a autonomia dos palestinos, mas também os privam de seu direito à autodeterminação, reduzindo uma luta política pela libertação a uma série de crises desconexas e apolíticas.
O cenário moderno do “terrorismo” foi institucionalizado na década de 1960, quando os regimes coloniais ocidentais e as ditaduras de direita o utilizaram como arma para deslegitimar os movimentos comunistas, socialistas, anti-imperialistas e de libertação nacional. Por exemplo, essa narrativa permitiu que ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos em toda a América Latina rotulassem a oposição política de esquerda como “terrorista”, enquanto realizavam execuções em massa, desaparecimentos forçados e tortura. Da mesma forma, os movimentos de libertação nacional na Palestina, Argélia, África do Sul, Irlanda e Vietnã foram considerados “organizações terroristas” pelos governantes coloniais e seus aliados, a fim de justificar a opressão colonialista e impedir a independência nacional.
Com o declínio do comunismo após o colapso da União Soviética na década de 1990, a narrativa global do “terrorismo” passou a se concentrar em um novo “inimigo global” — o fundamentalismo islâmico —, especialmente após os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Desde então, o conceito de “terrorismo” tem sido instrumentalizado pelas potências ocidentais para justificar ocupações militares e atrocidades em todo o mundo, incluindo no Iraque, Afeganistão, China e Chechênia — tudo sob a bandeira da “Guerra ao Terror”.
Na Palestina, essa narrativa existe desde a criação do Estado colonialista israelense, servindo para criminalizar e reprimir a resistência palestina em todas as afiliações políticas e formas de luta. Essa abordagem tem sido fundamental para Israel justificar suas políticas opressivas, incluindo assassinatos, tortura, bloqueios, agressões militares, punições coletivas, detenções administrativas e demolições punitivas de casas — apresentando-as como medidas de “combate ao terrorismo” ou “autodefesa”.
A narrativa também foi institucionalizada por meio da criminalização oficial sob o legado das leis coloniais britânicas e das próprias leis de Israel, especialmente desde o surgimento do movimento de libertação nacional palestino na década de 1960. Desde então, Israel designou oficialmente a Organização para a Libertação da Palestina e a maioria das forças políticas a ela afiliadas — incluindo a Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), de esquerda — como “organizações terroristas”, garantindo o apoio dos aliados ocidentais para essas classificações. À medida que novos partidos políticos, como o Hamas, surgiram na década de 1980, eles também foram designados como entidades “terroristas”. Com o tempo, essas designações se expandiram para incluir grupos estudantis, grupos de direitos humanos e da sociedade civil.
O conceito de “terrorismo” tem sido utilizado como arma para reprimir e deslegitimar os movimentos de libertação nacional e socialistas, ao mesmo tempo que reforça o poder do Estado sobre os muçulmanos, as pessoas de cor e outras comunidades oprimidas. Isso mascara a violência imperialista dos Estados que afirmam agir em nome do “combate ao terrorismo”.
Em 1986, Benjamin Netanyhu, então embaixador de Israel na ONU, editou e compilou um livro de ensaios intitulado “Terrorismo: Como o Ocidente pode vencer”, que defendeu e influenciou fortemente a disseminação do enquadramento e do clichê do “terrorismo”. Edward Said escreveu uma análise.
Essa narrativa do “terrorismo” reforça uma dicotomia prejudicial: “nós contra eles”. Nesta dicotomia, o “inimigo e ameaça global” é contrastado com os “civilizados”, que estão posicionados para contê-lo. De um lado, há as “democracias” judaico-cristãs e brancas; do outro, os “centros de terrorismo”, frequentemente muçulmanos, árabes e pardos, rotulados como “bárbaros, incivilizados e inerentemente violentos”.
A narrativa “terrorista” deslegitima a resistência palestina ao descontextualizar a raiva, demonizando e invalidando respostas legítimas aos sistemas coloniais e de ocupação de Israel. Retrata os palestinos como “irracionais, bárbaros e inerentemente violentos”. Os homens palestinos são os mais frequentemente visados por essa narrativa, enquanto apenas certos grupos — normalmente crianças, mulheres e idosos — são rotulados como “civis inocentes”.
Isso cria uma hierarquia de vidas em que a violência colonial contra os chamados “terroristas” é normalizada e justificada, enquanto os ataques a “civis” recebem alguma simpatia ou são descartados como “danos colaterais” inevitáveis. Essas categorizações desumanizantes reforçam a narrativa que Israel usa para legitimar o genocídio, os assassinatos em massa e a expropriação sistemática.
Os ocupantes coloniais, incluindo Israel, há muito reivindicam o “direito” de se defenderem da resistência dos povos colonizados, muitas vezes rotulando-oa de “contraterrorismo”, mesmo quando cometem genocídio. Ao adotar a narrativa de que a violência colonialista é aceitável, necessária e legítima para a segurança de Israel, a mídia internacional e a classe política validam as agressões contínuas e a opressão colonialista de Israel, em vez de reportar de forma ética e adotar ações concretas para impedi-las.
Gaza é um importante microcosmo desse fenômeno. Em vez de ser reconhecido como um dos locais mais densamente povoados do mundo — onde mais de dois milhões de palestinos, a maioria dos quais refugiados e com menos de 30 anos, foram colonizados durante oito décadas e sitiados durante quase duas décadas —, é constantemente apresentado como um centro de “terrorismo” e uma ameaça à segurança que deve ser contida. Essa abordagem convenientemente obscurece as agressões militares contínuas e sistemáticas contra o pequeno enclave, incluindo bombardeios periódicos em grande escala, assassinatos em massa, destruição de casas, escolas, hospitais e infraestrutura, bem como o profundo trauma psicológico infligido à sua população. Essa narrativa se alinha perfeitamente com as repetidas afirmações dos aliados ocidentais do chamado “direito de Israel de se defender”.
As implicações mais amplas da adoção da narrativa “terrorista” são assustadoras, resultando em ameaças diretas contra os palestinos e seus aliados, incluindo sanções, processos criminais, vigilância, fechamento forçado de grupos da sociedade civil, restrições de viagem, demissões, deportações, estigmatização e isolamento financeiro e político. A cumplicidade da mídia na disseminação da desinformação israelense, ao mesmo tempo em que suprime as narrativas palestinas, também reforçou os crimes de ódio contra palestinos, árabes e muçulmanos.
*Saiba mais sobre a repressão à incidência palestina nessa seção.
Associar a resistência palestina ao “terrorismo” na consciência internacional reforça ainda mais a ideia de que os palestinos são “terroristas”, em contraste com um punhado de indivíduos que buscam a paz. Comparativamente, os colonos israelenses que vivem em terras roubadas e cometem ataques coloniais diários contra os palestinos são simplesmente referidos como um punhado de “extremistas” pela grande mídia e pela classe política. Essa noção de extremismo é falha: ela implica que a maioria dos israelenses reconhece os palestinos e seus direitos, e que apenas uma minoria apoia a limpeza étnica da Palestina. De fato, 73% dos israelenses entrevistados em março e abril de 2024 acreditam que a guerra genocida de Israel em Gaza, que até então havia ceifado a vida de mais de 32.000 palestinos, incluindo mais de 14.000 crianças, é “certa” ou “não foi longe o suficiente”.
Em todos os contextos opressivos, as potências coloniais e imperiais tentam justificar sua opressão retratando a resistência, a recusa e a rebeldia dos oprimidos como “irracionais, violentas, incivilizadas e inerentemente contrárias à paz”.
Na Palestina, essa narrativa tem sido, há muito tempo, central para a propaganda sionista, a fim de justificar o projeto colonial, retratando os palestinos como rejeitando ofertas supostamente generosas de “modernidade e paz”. Esse discurso racista tem sido usado desde o período colonial britânico, quando os palestinos rejeitaram a Declaração de Balfour de 1917, a partição da Palestina no plano da Comissão Peel da Liga das Nações de 1937 e o plano da ONU de 1947.
A narrativa sionista de “rejeição” retratou os palestinos e os árabes como opositores da “paz” e das negociações, bem como “inerentemente violentos e odiosos”, enquanto Israel realizou uma limpeza étnica da maioria do povo palestino durante a Nakba de 1948 e, posteriormente, expandiu sua ocupação para o restante da Palestina em 1967, juntamente com outros territórios árabes.
Uma síntese importante desse discurso é uma citação racista, escrita em 1973 pelo então ministro das Relações Exteriores Abba Eban, de que “os árabes nunca perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade”. Variações desse clichê têm persistido por meio de retratos imprecisos ou descontextualizados de “negociações de paz” fracassadas.
Ao mesmo tempo, os palestinos foram moldados pelos “Acordos de Paz de Oslo”, uma série de acordos assinados no início da década de 1990 entre a OLP e o governo israelense, que resultaram em um “processo de paz” prolongado e permanentemente fracassado. Embora a porcentagem de jornalistas, repórteres, analistas e diplomatas que leram os acordos de Oslo não tenha sido medida para este estudo, as respostas dos nossos grupos focais indicam que poucos internacionais reconhecem ou têm conhecimento dos seus detalhes e falhas. Apesar disso, muitos continuam a promover o quadro das “negociações de paz” como um caminho viável para o futuro, mesmo com as novas gerações de palestinos, moldadas pelas consequências de Oslo, cada vez mais rejeitam esse paradigma. Isso apenas reforçou ainda mais a narrativa de que os palestinos são negacionistas, apresentando sua oposição aos processos fracassados como hostilidade em relação aos seus chamados “vizinhos israelenses”.
Este discurso de rejeição persiste nas instituições políticas e midiáticas tradicionais, independentemente dos crimes cometidos pelo regime colonial, como fica evidente no genocídio em curso; o Hamas é agora apresentado como o rejeitador dos acordos de cessar-fogo.
Mohammed El-Kurd usa sátira para desconstruir a questão: “Por que os palestinos não querem a paz?”
Fonte: Mondoweiss
A ideia de que os palestinos rejeitam sistematicamente a “paz” é intrinsecamente racista. Isso os desumaniza, retratando sua rebeldia como irracional, radical e contrária à generosidade. Ao retirar o contexto da sua recusa, nega-se a legitimidade da sua luta pela justiça, libertação e direitos.
O discurso apaga a natureza colonialista do regime israelense e a dinâmica de poder assimétrica entre os colonizados e os colonizadores, em consonância com a narrativa do "conflito bilateral" .
Dentro dessa descontextualização e falsa equivalência, as negociações são defendidas como o caminho para a “paz”, mesmo quando são fundamentalmente falhas. Em vez de desmantelar os sistemas de opressão e garantir a responsabilização, os direitos e as reparações, espera-se que os oprimidos aceitem compromissos que mantêm a injustiça e o controle colonial.
Este discurso ignora como esses acordos e negociações serviram para dividir e fragmentar a terra e seu povo, normalizar a transferência de terras palestinas para colonos europeus e continuar a negar aos palestinos seu direito à autodeterminação e soberania sobre suas terras.
A narrativa omite a má-fé de Israel na implementação das “negociações de paz”. Repetidamente, quando os palestinos concordaram com negociações, Israel não só as violou, como também aproveitou a oportunidade para aprofundar a sua colonização, obstruindo qualquer caminho significativo para uma paz justa.
Isso é evidente na continuação e expansão da colonização após os Acordos de Oslo; e nas repetidas violações por parte de Israel dos acordos de cessar-fogo com o Hamas e o Líbano durante o genocídio em curso.
Esses clichés privam os palestinos de sua autonomia, retratando-os como incompetentes, incapazes de construir sistemas socioeconômicos e fazer escolhas políticas que supostamente seriam boas para eles. Em última análise, isso deslegitima todas as formas de resistência palestina, ao esperar submissão e concessões diante da opressão contínua.
Essa narrativa serve como uma ferramenta para culpar as vítimas. Pinta os palestinos como responsáveis pela opressão e violência exercidas contra eles, ao mesmo tempo em que obscurece a recusa sistemática de Israel a qualquer acordo que proteja os direitos dos palestinos e sua má-fé inerente na implementação de tais acordos.

Israel domina a tática da benevolência do opressor; depois de roubar terras, ocupar, desapropriar, bombardear e cometer genocídio, eles realizam gestos simbólicos enquadrados como generosidade e boa fé.
Exemplos incluem:
Israel apresenta-se como racional e agindo de boa-fé, enquanto os palestinos que enfrentam essa hipocrisia e manipulação psicológica são retratados como eternos reclamantes.
Uma das formas mais comuns de enquadramento problemático do povo palestino é a tendência de retratá-lo de maneira unidimensional. Essas representações reducionistas frequentemente retratam os palestinos apenas como vítimas, combatentes, violentos, inflexíveis e/ou heróis. Embora algumas dessas representações possam partir de boas intenções e não sejam necessariamente falsas ou negativas, elas podem contribuir para narrativas desumanizantes e excludentes quando adotadas como único enquadramento.
As pessoas que se comunicam podem empregar mais de uma representação simultaneamente; no entanto, nossa pesquisa indica que alguns setores comunicam narrativas unidimensionais com mais frequência do que outros.
Na mídia convencional e no discurso político, os palestinos são frequentemente retratados como “inerentemente violentos”, raivosos e, na pior das hipóteses, “terroristas”. Essa narrativa é reforçada por um foco deliberado nos momentos de resistência palestina — particularmente durante protestos e lutas armadas — e pela representação exagerada dos homens palestinos, normalmente retratados em grandes multidões sem rosto, usando kuffiyahs, jogando pedras ou queimando pneus
Simultaneamente, essa abordagem se concentra nos chamados momentos de violência intensificada e escaladas, como incursões militares e assassinatos, ignorando tanto as causas profundas quanto o fato de que a vida cotidiana sob o colonialismo israelense é inerentemente violenta para os palestinos.
Outra narrativa simplista e prejudicial é a representação dos palestinos como vítimas passivas. Essa narrativa enfatiza o sofrimento palestino, ignorando em grande parte suas causas fundamentais: Colonização, ocupação e apartheid israelenses. Ao mesmo tempo, marginaliza a resistência palestina e o sumoud (determinação, firmeza, perseverança), reduzindo a luta a uma situação de impotência e privando os palestinos de sua autonomia política e dignidade.
Nesse contexto, certos palestinos são super-representados — aqueles que se encaixam no molde da “vítima ideal” de acordo com padrões etnocêntricos: indivíduos percebidos como inocentes, apolíticos, indulgentes e distantes da raiva ou da resistência. Nessa lógica colonial, muitas vezes são as mulheres, as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência. Suas histórias são frequentemente reduzidas a relatos pessoais de dor, desprovidos de narrativas políticas ou autonomia.
*Saiba mais sobre a narrativa da “Vítima Ideal” nessa seção
Embora as representações simplistas dos palestinos como violentos ou vítimas sejam muitas vezes deliberadas e institucionais, representações igualmente reducionistas existem frequentemente nos espaços palestinos e de solidariedade, apesar das boas intenções. Nesses espaços, os palestinos são frequentemente romantizados e retratados como figuras heróicas lendárias de resistência e sumoud (determinação, firmeza, perseverança). Nessa narrativa, os palestinos são glorificados como símbolos eternos de resistência, capazes de suportar e resistir a qualquer opressão que lhes seja imposta.
Narrativas simplificadas demais não conseguem captar a diversidade e a complexidade das identidades e experiências palestinas, onde o sofrimento e a resistência se cruzam. Além disso, confiar nessas narrativas simplificadas demais reforça entendimentos e reações prejudiciais à causa palestina — desde a demonização e o medo até a piedade, a idolatria e a romantização. Em todas essas representações, os palestinos são confinados a estereótipos redutores, que servem para promover ainda mais sua desumanização.
As representações romantizadas que retratam os palestinos exclusivamente como heróis ou símbolos de sumoud (determinação, firmeza, perseverança) apresentam várias armadilhas:
Mohammed El-Kurd sobre os riscos da narrativa resiliente
Fonte: Al Jazeera em Inglês
Vitimizar os palestinos, focar no sofrimento e deixar de lado a resistência, prejudica a dignidade palestina e diminui sua capacidade política. Isso promove a piedade e limita as ações à caridade, em vez de uma solidariedade genuína enraizada no desejo de mudança política. A vitimização constante também pode levar à apatia e à fadiga da compaixão, mesmo entre públicos bem-intencionados.
Saiba mais sobre apatia nessa seção.
Lara Elborno aborda a desumanização dos homens palestinos
Fonte: Double Down News
O clichê da “vítima ideal” existe para todas as pessoas oprimidas. Isso sugere que certos pré-requisitos devem ser cumpridos para que as pessoas racializadas obtenham simpatia, representatividade e justiça. Para serem “humanizados”, eles devem ser higienizados e apresentados como identificáveis e agradáveis ao público ocidental.
Por exemplo, uma vítima negra de brutalidade policial é defendida ao ser retratada em termos angelicais, destacando sua sobriedade, não violência e personalidade gentil; sugerindo que somente se a vítima incorporar essas qualidades e valores é que ela será digna de vida e justiça.
Essa narrativa é evidente no caso palestino. Para receber atenção e simpatia, espera-se que os palestinos sejam gentis, educados, indulgentes, pacíficos — desprovidos de raiva e aspirações nacionalistas — mesmo enquanto suportam a opressão colonial. Espera-se que eles destaquem estilos de vida progressistas, profissões honrosas, passaportes estrangeiros e aparência ocidental, ao mesmo tempo em que se distanciam das tradições islâmicas ou conservadoras. Nesse contexto, os homens palestinos são especialmente desumanizados, forçados a provar constantemente sua inocência para serem considerados dignos de reconhecimento.
Mohammed El-Kurd sobre a vítima perfeita
Fonte: TRT World
Essa narrativa prejudicial é perpetuada pelos aparatos de comunicação dominantes, incluindo a mídia, o establishment político e as indústrias do entretenimento e da cultura. Tanto os grupos de solidariedade quanto os próprios palestinos internalizaram consciente e inconscientemente essa narrativa, numa tentativa de pressionar por cobertura e justiça.
Ahed Tamimi
Ahed é uma jovem ativista palestina da aldeia de Nabi Saleh, na Cisjordânia ocupada, que tem sido alvo de intensos planos de colonização israelense e constantes incursões militares. Um vídeo em que ela esbofeteava um soldado viralizou em 2017 e Ahed Tamimi tornou-se um símbolo internacional da resistência palestina. Ela foi presa e julgada em um tribunal militar, e cumpriu uma pena de oito meses, ainda menor de 18 anos. Seu caso recebeu grande atenção da mídia internacional. Alguns participantes palestinos em nossa pesquisa e comentários palestinos online na época consideraram que a idade, o gênero e a aparência física de Ahed Tamimi (uma jovem loira) foram fatores importantes para o apoio e a conexão que ela recebeu da mídia internacional. O jornalista Ben Ehrenreich explica esse preconceito em favor da branquitude no caso de Ahed da seguinte forma:
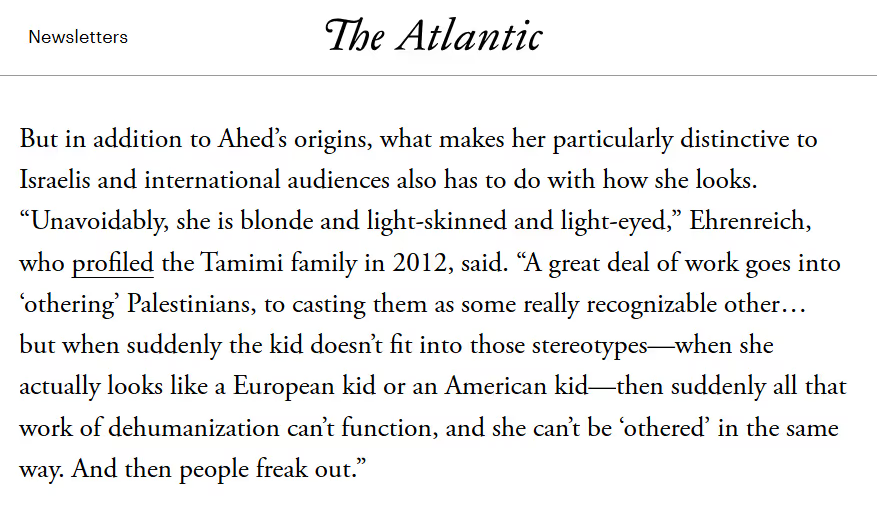
Shireen Abu Akleh
Shireen era uma renomada jornalista palestina que foi assassinada pelas forças israelenses enquanto cobria uma invasão militar em Jenin, na Cisjordânia ocupada, em maio de 2022. Para muitos jornalistas, políticos e comentaristas, era importante sublinhar que Shireen era uma mulher, cidadã americana e de fé cristã, a fim de suscitar uma indignação mais generalizada pelo seu assassinato por uma força militar ocupante.
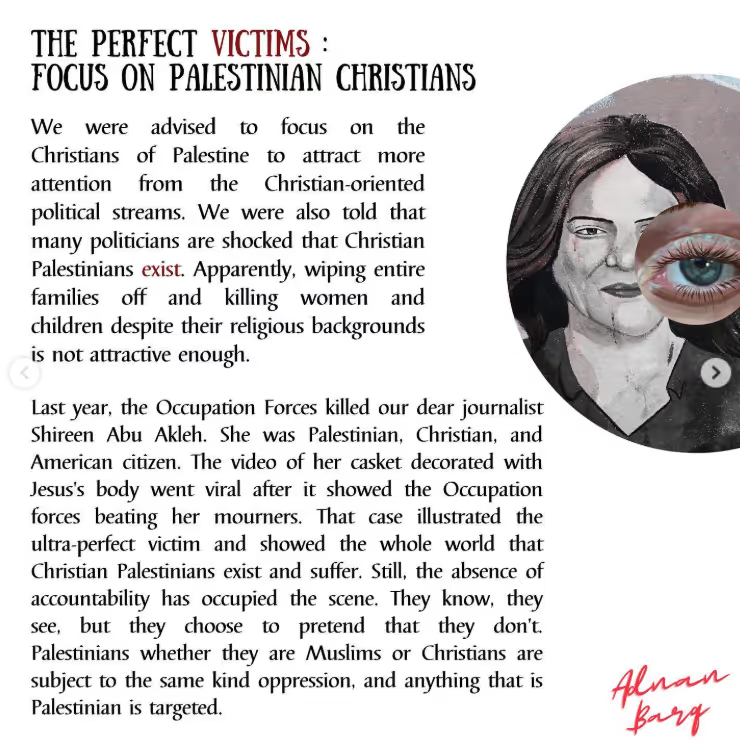
O “palestino progressista”
Em nossa pesquisa, questionamos o enquadramento “palestino progressista” — que pode não parecer imediatamente prejudicial. Usamos uma foto de palestinos tomando uma bebida em um bar na cidade de Ramallah. Para os nossos participantes palestinos residentes na Palestina, estes aspetos da vida palestina estão a ser transformados num espetáculo ou num símbolo para obter a aprovação ocidental. No grupo de discussão realizado na comunidade rural de Khan al Ahmar, os participantes consideraram que a foto havia sido incluída por engano e que, na verdade, havia sido tirada em outro país.

Por outro lado, outros entrevistados, especificamente os participantes ocidentais, viram essas imagens como uma forma de ajudar o público internacional a se identificar mais facilmente com os palestinos e ter uma visão positiva, além dos estereótipos esperados. Para eles, essa especificidade palestina é vista como uma correção à imagem negativa que algumas pessoas inicialmente têm dos palestinos.
Esse contraste mostra como os internacionais reforçam a narrativa da “vítima ideal”.
Exigir que os palestinos provem sua humanidade para obter empatia e justiça não é apenas racista e desumanizante — isso reforça os próprios sistemas imperiais que impuseram essas expectativas em primeiro lugar, ao mesmo tempo em que molda a opinião pública e o envolvimento por meio desses mesmos termos desumanizantes.
Imagens, representações e discursos em que certas características são vistas de forma mais positiva (loiro, cristão, consumo de álcool, não violência) sugerem que outros palestinos que não se enquadram nesses estilos de vida, aparências ou valores são menos merecedores da liberdade.
Humanizar os palestinos enfatizando excessivamente quaisquer pontos em comum que possam ter com traços e normas ocidentais, ou condicionar a empatia a essas normas, restringe o escopo de quem é considerado digno de justiça. Isso cria uma hierarquia de sofrimento, na qual os palestinos que não se encaixam nessas expectativas são abandonados. Esses palestinos são, na maioria das vezes, os mais desfavorecidos da sociedade, ou seja: aqueles que são mais diretamente afetados pela colonização israelense e que arcam com os custos mais pesados por sua resistência.
Quando os palestinos só são vistos como “humanos” se parecerem calmos, pacíficos ou agradáveis, suas reações naturais à opressão — como raiva ou desejo de vingança — são descartadas como inaceitáveis. Isso restringe a forma como eles podem expressar a dor e resistir à injustiça. Na prática, determina quais emoções são “permitidas” e quais não são, negando aos palestinos toda a gama de respostas humanas à violência e à colonização.
Quando os palestinos são pressionados a se encaixar na imagem de “vítima ideal”, eles são obrigados a provar sua humanidade, enquanto a atenção é desviada da questão real: a violência do opressor e o próprio projeto colonial. O foco deve permanecer nos sistemas de dominação, e não no fato de as vítimas parecerem “perfeitas” o suficiente para merecer empatia.